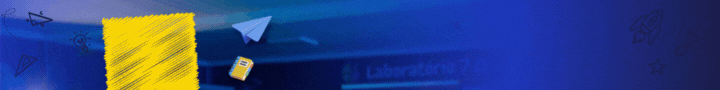Welligton Freire
Irã: Fim da Revolução e o Começo do Caos

Uma cena surpreendente emergiu da
mais recente onda de protestos no Irã: a publicação, nas redes sociais, de
vídeos do príncipe herdeiro da antiga dinastia real. Reza Pahlevi, filho do
último Xá – título do monarca que governou o país antes da Revolução Islâmica
de 1979 –, surgiu em uma série de gravações posicionando-se como um líder da
revolução no exílio. Seu apelo é direto: convoca a população a persistir na
insurreição até a derrubada completa do regime teocrático. O paralelo histórico
é irônico e cheio de significado. Há menos de meio século, era um líder
religioso carismático, o Aiatolá Khomeini, quem, do exílio na França, dirigia
uma campanha implacável contra o Xá Reza Pahlevi, culminando na fuga do monarca
e na instauração da República Islâmica. Agora, testemunhamos um processo de
erosão dessa mesma revolução, enquanto um Pahlevi, do exílio, tenta reivindicar
o papel de símbolo máximo da alternativa ao regime. A história, parece, não se
repete, mas ecoa de forma perturbadora, abrindo espaço para a remota, porém
publicamente evocada, possibilidade de restauração de dinastias depostas.
A história recente do Oriente Médio
demonstra que a queda de regimes autoritários fortemente centralizados,
sobretudo aqueles sustentados por estruturas militares ideologizadas, tende a
produzir mais instabilidade do que democratização. No Iraque, a deposição de
Saddam Hussein em 2003, conduzida pela intervenção anglo-americana e pela
dissolução deliberada do Exército e do Partido Baath, resultou na
desarticulação completa do aparato estatal, criando um vácuo de poder explorado
por milícias sectárias, pela Al-Qaeda no Iraque e, posteriormente, pelo Estado
Islâmico. A ausência de um plano de estabilização pós-conflito e a lógica da de-Baathificação
transformaram uma derrota militar rápida em um conflito assimétrico prolongado,
cujos efeitos ainda se fazem sentir duas décadas depois.
Na Líbia, a derrubada de Muammar
Kadafi em 2011, no contexto das chamadas Primaveras Árabes e sob cobertura
aérea da OTAN, seguiu trajetória semelhante. A eliminação do líder não foi
acompanhada da preservação de instituições coercitivas nacionais, o que levou à
fragmentação do monopólio da força, com o surgimento de governos paralelos,
milícias tribais e grupos jihadistas. O país converteu-se em um espaço de
guerra por procuração, envolvendo potências regionais e globais, evidenciando
os limites da doutrina de “intervenção humanitária” quando dissociada de um
projeto político-institucional de longo prazo. A Síria oferece um modelo
distinto, porém igualmente revelador. A partir de 2011, o regime de Bashar
al-Assad optou pela militarização total da crise, sustentando-se por meio da
lealdade das Forças Armadas, do apoio de milícias aliadas e da intervenção
direta da Rússia e do Irã. O resultado foi a preservação formal do Estado, mas
ao custo de uma soberania fraturada, com áreas controladas por atores externos
e não estatais. Trata-se de um exemplo clássico de conflito híbrido e
congelado, no qual a sobrevivência do regime não corresponde à restauração da
ordem nacional.
O Irã reúne elementos dos três
casos, mas em escala mais complexa. Diferentemente do Iraque de 2003, o país
não enfrenta uma intervenção externa direta; contudo, como na Líbia, observa-se
uma erosão interna da legitimidade do regime. Ao mesmo tempo, à semelhança da
Síria, Teerã mantém um aparato militar altamente politizado, em especial a
Guarda Revolucionária Islâmica, treinado em doutrinas de guerra assimétrica,
repressão interna e projeção regional. Essa capacidade reduz a probabilidade de
colapso imediato, mas aumenta o risco de um processo prolongado de desgaste,
com ciclos de repressão, insurgência difusa e radicalização. Dessa forma, a
hipótese mais plausível não é a de uma transição ordenada nem a de uma
restauração monárquica clássica, mas a de uma crise prolongada de autoridade,
capaz de comprometer a coesão do Estado iraniano e desestabilizar os
equilíbrios regionais. Tal cenário reforça a tese de que o Irã pode tornar-se
mais um epicentro da crise da Nova Ordem Internacional, na qual regimes
colapsam ou sobrevivem de forma disfuncional, enquanto o sistema internacional
revela-se incapaz de administrar transições, conter guerras internas ou evitar
a disseminação do caos para além das fronteiras nacionais.
Portanto, o discurso
do príncipe Pahlevi é menos uma solução e mais um indicador da magnitude da
crise de sucessão política que se abre no Irã. A revolução islâmica, como
projeto geracional e ideológico, mostra sinais de exaustão. No entanto, as
instituições coercitivas que ela criou são robustas e têm interesses vitais a
defender. A hipótese de uma transição pacífica para uma monarquia
constitucional ou uma república democrática parece remota face à história
militar recente da região. O diagnóstico aponta para um longo inverno de
turbulência. A alternativa mais realista não está entre a república islâmica e
a monarquia, mas entre diferentes graus de desordem controlada e colapso
violento. O regime pode se manter, cada vez mais autoritário e menos
ideológico, em um estado de conflito latente com sua própria população. Ou pode
rachar, desencadeando uma luta pelo poder dentro do establishment que abriria
as portas para uma desintegração tipo líbia, porém em uma escala geopolítica
infinitamente mais perigosa. A comunidade internacional, fracturada e sem
consenso, mostra-se incapaz de gerir tais transições, como a história recente
prova. O mundo pode, mais uma vez, ser pego de surpresa por um terremoto
geopolítico no Irã, limitando-se a reagir aos destroços, em vez de moldar um
resultado estável. O regresso do Xá, como ideia, é um espelho das aspirações de
ruptura de muitos iranianos. Mas o espectro que verdadeiramente ronda o Irã e a
região é o do vazio de poder e da guerra multifacetada, heranças malditas das
transições traumáticas no Oriente Médio do século XXI.
A crise iraniana não
se anuncia como revolução redentora nem como simples continuidade autoritária,
mas como um interregno perigoso, no qual o velho perdeu sua legitimidade e o
novo é incapaz de nascer. Nesses momentos, a história ensina, não triunfam
projetos, mas forças. O retorno simbólico de um Pahlevi não é sinal de
restauração, mas de esgotamento: quando o passado é convocado como futuro, é
porque o presente entrou em colapso. O verdadeiro espectro que ronda o Irã não
é o da monarquia nem o da república islâmica, mas o da dissolução do poder
político como princípio ordenador. E quando o poder se fragmenta em sociedades
armadas, a violência deixa de ser exceção e se converte em método. O Oriente
Médio do século XXI já conhece bem esse roteiro, e o sistema internacional,
mais uma vez, parece condenado a assistir à tragédia sem coro, sem catarse e
sem saída.
Welligton Freire LEIA TAMBÉM
Colunistas
-

César Oliveira
Mobilidade urbana em Feira: estacionada no tempo
O Judiciário brasileiro está no fio da navalha
-

Valdomiro Silva
Está na hora de dar um basta em irregularidades das organizações sociais gestoras de unidades de saúde
Prefeitura notifica 25 infratores da limpeza; quantos já foram penalizados?
-

Welligton Freire
Irã: Fim da Revolução e o Começo do Caos
A Era da Rapina: o colapso da ordem internacional e o retorno do império
-

André Pomponet
Por mais mobilidade na Feira
O 4 de Dezembro no Centro de Abastecimento
-

Emanuela Sampaio
Quartos que cuidam da alma: o design de interiores como aliado do bem-estar emocional
Festa de Yemanjá do Canto celebra quatro anos com all inclusive, música e gastronomia à beira-mar
-

César Oliveira - Crônicas
O mal estar do século e a falta de porrada
Faça o dia bem feito
As mais lidas hoje
-
1
Por mais mobilidade na Feira
-
2
PF deflagra nova fase da Operação Overclean e mira deputado federal baiano Félix Mendonça Jr.
-
3
Quartos que cuidam da alma: o design de interiores como aliado do bem-estar emocional
-
4
Irã: Fim da Revolução e o Começo do Caos
-
5
Valdomiro Silva - Estado investe pesado em mobilidade na capital, mas precisa olhar (mais) por Feira